sistema: conjunto de princípios verdadeiros ou falsos reunidos de modo a formar corpo
1. True – Sexta, 31 de março (hoje), o Bernardo regressa à livraria. Vem celebrar o primeiro aniversário da Anfisbena e lançar o seu mais recente título, 23 · I, que é como quem diz o primeiro conjunto de poemas de 2023. O Bernardo publica (escreve, imprime, corta e agrafa) desde o ano passado e, pouco depois dos primeiros poemas, arranjou rapidamente esta lógica atual de edição, digamos «diarística», de nomear os livros com anos e sequências. É, se quiserem, uma estratégia (não de «verdade» porque, afinal de contas, estamos a falar de poesia, mas) de veracidade: lemo-los e cremos estar perante 20 textos escritos desde o último título (no caso, o 22 · 3 de dezembro); lemo-los e cremos ver nas terras mencionadas as viagens que fez e nas dores descritas os dramas por que passou. Estratégia também identitária, de individualidade.
Parece-me, no entanto, que há uma força que puxa estes textos para fora de um espaço em que o poeta acabaria por se expor demasiado (sem estar pronto para tal) e o dilui num grupo, fazendo com que «deixe de ser para que o poema seja» (Eugénio de Andrade). Mais ou menos na mesma altura em que os livros-cartas se transformaram em livros-calendários, ele começou também a experimentar uma forma nova na sua poesia, o velhinho soneto. No momento em que a coisa podia ter ficado tão-só confessional, quase sem filtro (mesmo não sabendo se há literatura que não tenha algum, ainda que apenas na cabeça de quem lê), ele criou-lhe um desvio. Como quem diz: eu posso até falar verdade, mas será uma verdade, a-verdade-possível-em-catorze-versos-decassilábicos-acentuados-na-sexta-e-na-décima-sílabas.
É que a forma também define de alguma maneira o seu conteúdo, tanto como um conteúdo diferente pode pedir uma forma diferente – acho que lhe disse isto à porta da livraria, depois da última apresentação. E escrever sonetos – dentro desta estética de quem se leva a sério, não para o desconstruir ou ironizar – é também ceder a certas palavras e ritmos e imagens que não são dele nem de ninguém com quem se tenha cruzado recentemente. E isso pode ser usado de modo inteligente, por quem está a começar, para medir a par e passo onde nos queremos mostrar e onde nos queremos esconder, por trás de que tradição queremos desaparecer. Ou porque ainda nos dá gozo o malabarismo lexical e sintático, apesar de parecer estar fora de moda. Ou porque é um conforto termos de nos adaptar a limitações (como são igualmente as do tamanho do papel que pode ser agrafado em casa e que cabe num envelope, como nos explicou antes o Bernardo).
Claro que, se estivéssemos preocupados com a verdade, a tal, poderia ser-nos estranho ler alguém que nem trinta anos tem a falar de envelhecimento, peste e morte, ventos e caixões, ramos de árvores despidos como ossos, falsas modéstias e falsas pobrezas. Mas quem nos disse que era esse tipo de sinceridade que deveríamos esperar dos poetas e não uma «autobiografia mítica»? E se ele estiver, de facto, a construir um vocabulário que é fiel ao seu mundo, por muito triste que nos pareça, tentando esquecer que lhe conhecemos o rosto bonito e o apelido de família? Há um poema dele mais antigo (o que, no seu caso, quer dizer: com meio ano) que dizia mais ou menos isto: os dentes ao espelho são brancos, mas por trás já escondem cáries. No momento em que lhe começámos a ver o barroco das cáries de mais perto, limitou-se a trocar de espelho por outro um pouco mais rebuscado.
2. False – Sábado, 1 de abril (amanhã), o Pedro e o Miguel vêm conversar sobre verdade e mentira na construção de uma possível história LGBTQ em Portugal. A pergunta de que partem é absolutamente eloquente: que fontes? Num contexto em que a voz de muitas pessoas, durante séculos, foi sendo silenciada, apagada, destruída, perdida por negligência ou superior interesse nacional, num contexto em que muitas vezes não há «nada» a não ser a versão oficial da história, a do vencedor, a do agressor, a do colonizador, a voz que satiriza, a voz que acusa, a voz que constrói o outro como um monstro e lhe põe palavras na boca, o que retirar daí?
Uma verdade, uma especulação, uma intuição, um boato, a história também se escreve por linhas tortas, mesmo a dita oficial, convém dizê-lo mais vezes. Na era das citações falsas ou mal atribuídas que se partilham online, estamos prontos para discutir o papel da mentira na tradição? Ainda nos lembramos que o Neoclássico produziu estátuas de mármore branco e límpido para emular «a verdade» clássica, ignorando que a escultura na Antiguidade era revestida de cor?
3. «Pausa para separar os dias do irremediável»: um quadro de 1971 de António Palolo
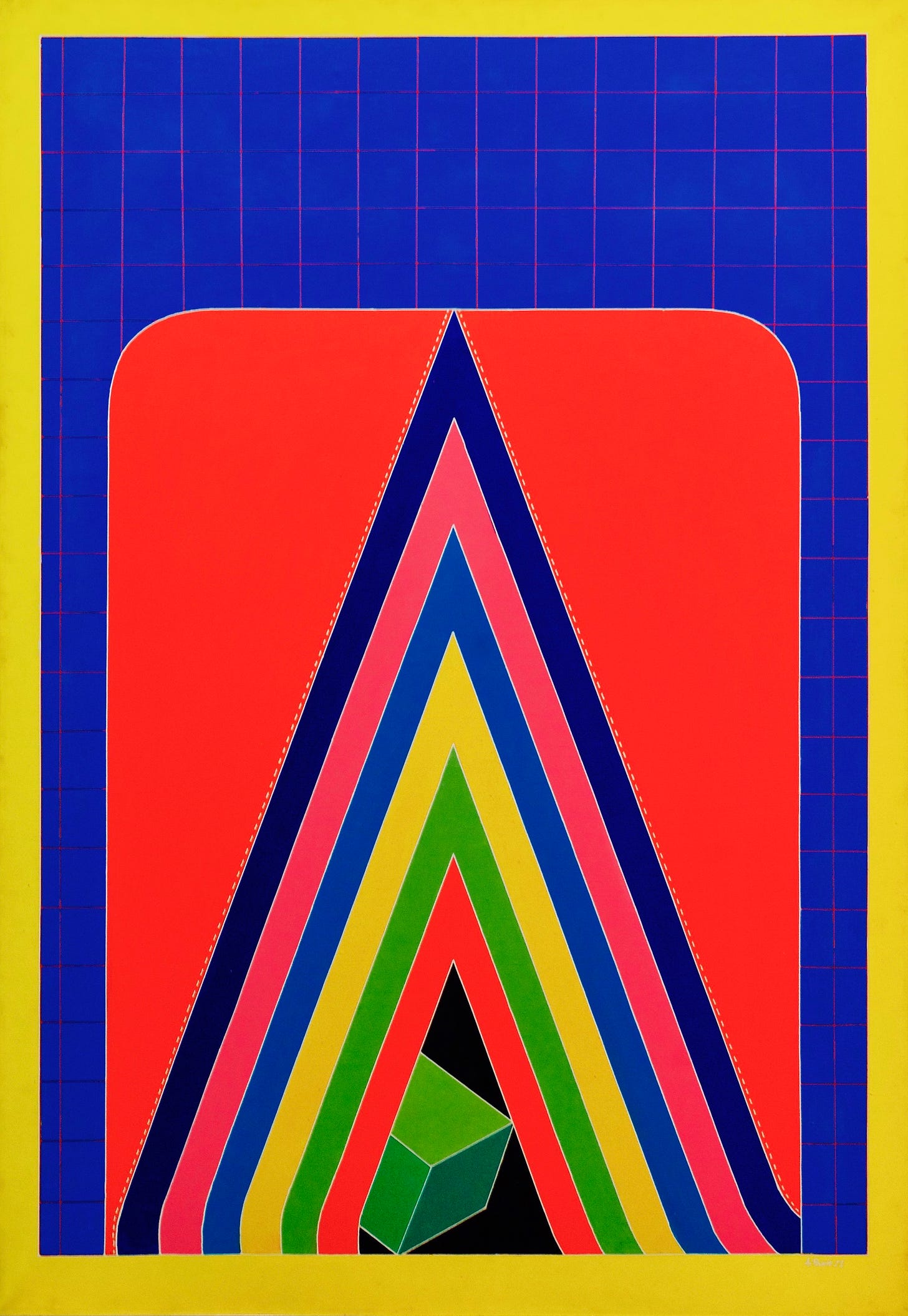
e um vídeo no Youtube que me faz muito feliz (aqui): vinte e um minutos de um pôr-do-sol no terraço com funk e disco e queers a cantar, é do que estamos a precisar.
4. Fake – Quinta, 6 de abril, C. inaugura na aberta a exposição Doze casas, com moldes em gesso que fez de pessoas trans masculinas e não-bináries. A premissa era muito simples: que parte do corpo te faz sentir euforia? Ou, claro, a antecipação da alegria futura perante algo que hoje ainda faça sentir o oposto. É a primeira exposição de escultura que apresentamos na livraria e resulta de uma conversa que tem durado há meses com C., na sua constante (e obsessiva) procura de um ponto entre o corpo e a paisagem, o abstrato e o figurativo, o todo e o fragmento.
A passagem do eu à cópia, do corpo ao molde, cria uma distância importante não só para que as pessoas envolvidas possam ver agora o seu corpo de fora (e não mais tarde pelo filtro da memória, que também engana), mas ainda mais para que nós possamos ver corporizada de forma muito simples a tese de que, analisada de perto a anatomia, o conceito de género desaparece (a poesia do Eugénio não está longe deste pensamento).
5. Real – Sábado, 15 de abril (depois da Páscoa), a Rafaela regressa à livraria. A última vez que nos vimos foi em fevereiro, na apresentação do seu segundo livro editado pela Douda Correria. Agora, iremos falar do mais recente editado pela Traça, obra de 73 poemas, cada um com um título-de-uma-palavra-só (estratégia experimentada antes, mas não na totalidade de nenhum dos livros anteriores), como um dicionário sem ordem alfabética a que faltam, inclusive, algumas letras.
Quando o li, pensei que a primeira frase da sua apresentação deveria ser: «Este é o último livro de Rafaela Jacinto». E não por o livro abrir com o dobre a finados de Rachmaninoff nem porque eu decrete o fim da sua obra, aliás, as mortes estéticas (a «morte do autor», a «morte da literatura», a «morte do teatro», a «morte do cinema») são sempre mais lamentos fúnebres do que ameaças à integridade física. Este é o último livro de Rafaela Jacinto porque, consciente ou inconscientemente, cumpre muito bem o seu papel de encerramento da primeira trilogia não-oficial da obra (jacintiana? jacintina?): Regime / Fiz uma coisa má / A música está na minha cabeça. O livro está, de resto, carregado de considerações sobre fins e despedidas de relações (com pessoas, com instituições, com ideias, com expressões, com géneros).
Quando falámos em fevereiro, perguntei-lhe se andava às vozes, por muitos dos seus poemas assumirem personagens com nomes, idades e ocupações diferentes. O mais recente livro continua-o e acrescenta a esse enorme elenco a personagem Rafaela, que se pensa e vê de fora, e se reconhece num certo estilo (com algum sentido de humor), como nos versos «os meus poemas são curtos / perdi o jeitinho» ou «à espera que o poema / se crie / sozinho / quem serei hoje?». Ou, pegando nesta ideia da espera que lhe parece tão querida, na forma como o poema «estou à espera do aniversário / que me qualifique / capaz de adquirir / a minha primeira / sopa de letras» de algum modo recria uma estrutura sintática já presente no segundo livro: «à espera do dia / em que alguém me diga / és aceite / tal como és / o coração louco / a mística na medalha / e me condecore / digna de reforma / antecipada». Ou no jogo de haver um poema chamado «aniversário II» que pode remeter para o «aniversário» publicado no livro de estreia e, de um a outro, no espaço de três anos, «uma caixa de cartão / com cinco ou seis buracos / para se respirar / como se faz com os gatos» transforma-se «em caixas de metal / na despensa» dentro das quais endurecem bolachas dinamarquesas. Caricatura?
Ainda sobre a espera: é, de facto, um dos temas deste livro – esperar a vinda do Salvador, ou continuar a rezar sabendo-o morto, esperar que o router falhe para que a assistência técnica venha fazer alguma companhia –, resumido naquele belo dístico «o meu país / de esperas». E, de uma forma perversa, a espera faz com que o tempo se misture e se irmane na solidão porque tanto olhamos para trás e pensamos na ausência de «pessoas mortas há quatro mil anos» como olhamos para a frente e pensamos nas «pessoas de século e meio» que nos recordarão. Ou em como Rachmaninoff de 1901 se liga a Céline Dion via Eric Carmen de 1975.
6. Uma escolha muito pessoal de seis curtas e longas da década de 1970, para terminar
, Morte a Venezia – Death in Venice (Luchino Visconti 1971)
, Les lèvres rouges – Daughters of Darkness (Harry Kümel 1971)
, Pink Narcissus (James Bidgood 1971)
, Johnny Minotaur (Charles Henri Ford 1971)
, Sunday Bloody Sunday (John Schlesinger 1971)
, Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt – It Is Not the Homosexual Who Is Perverse, But the Society in Which He Lives (Rosa von Praunheim 1971).
